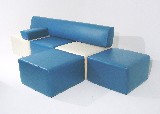Lic. Adélia Borges
Diretora do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo
 Todos nós sabemos o quanto as alegrias e os problemas vividos na infância reverberam por muitos e muitos anos em nossas vidas, e são determinantes do futuro, pois tudo o que acontece no período da infância, seja de uma pessoa, de uma instituição ou de uma atividade, marca muito, e fundo.
Todos nós sabemos o quanto as alegrias e os problemas vividos na infância reverberam por muitos e muitos anos em nossas vidas, e são determinantes do futuro, pois tudo o que acontece no período da infância, seja de uma pessoa, de uma instituição ou de uma atividade, marca muito, e fundo.
O design erudito brasileiro nasce negando as suas origens, totalmente alheio à questão da identidade cultural local. O programa de ensino do primeiro curso superior de design no país, a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), criada no Rio de Janeiro em 1964, foi inteiramente calcado no programa da Escola de Ulm, da Alemanha, de onde vieram inclusive alguns dos professores encarregados de implantar o curso. Somos portanto, como disse certa vez Zuenir Ventura, ex-professor da Esdi, “netos da Bauhaus e filhos de Ulm”.
Termos tido tanta ligação com o funcionalismo estrito no período de infância do design erudito brasileiro estancou os vínculos com as nossas raízes. Adotamos sem pestanejar o conceito da “boa forma”, ou do “bom design” e repetimos à exaustão a máxima de “a forma segue a função”, que se tornou a força dominante na educação e prática do design brasileiro.
Ulm não foi, é claro, uma influência isolada. A cartilha funcionalista que advogava um “estilo internacional” encontrou um ambiente propício no Rio de Janeiro, onde o movimento moderno fincara seu credo a partir da vinda do arquiteto Le Corbusier ao Brasil.
Alie-se a isso uma característica forte do brasileiro, um atávico complexo de inferioridade, que desde os tempos de colônia nos fez preferir “o que vem de fora”. O fato de durante muitas décadas os portos brasileiros estarem fechados à importação de produtos só reforçava essa super-valorização do exterior. Ponha-se num caldeirão esses e outros fatores e se chega a um design que buscava mais do que referências no exterior, buscava seu próprio norte.
Vozes isoladas
Houve, é certo, uma ou outra tentativa de reverter esse quadro. A arquiteta italiana Lina Bardi, radicada no Brasil desde 1946, descobre a arte popular brasileira, dá visibilidade a ela e prega a conciliação com as raízes populares como a única força capaz de mover o objeto brasileiro. Sergio Rodrigues ganha um concurso internacional em Cantu, Itália, em 1957, com uma poltrona que era a negação do racionalismo teutônico, a Poltrona Mole, no mercado internacional rebatizada de Sheriff. Rogério Duarte quebra a hegemonia da contida gráfica de influência suíça para deixar transparecer em seu trabalho uma força tropical, que explode no cartaz para o filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha, de 1968.
Um dos defensores dos críticos do funcionalismo estrito foi Aloísio Magalhães (1927-1982), pioneiro no design gráfico brasileiro, atuante desde o início dos anos 1950. Suas preocupações com a identidade cultural brasileira levaram-no a uma atuação mais abrangente no plano da formulação de políticas culturais. Em 1975 fundou o Centro Nacional de Referência Cultural, no Ministério da Cultura, com o objetivo de pesquisar, documentar e divulgar as manifestações culturais brasileiras.
Foram vozes fortes, essas. No entanto, foram vozes isoladas, transgressoras, dentro de um panorama em que falar de identidade cultural era coisa mal vista. Lembro-me de entrevistar designers nos anos 1980 que rejeitavam até o questionamento sobre raízes culturais e diziam que “quem se preocupa com identidade é latino-americano subdesenvolvido e inseguro”. Nesse momento, ao menos entre os designers de produtos para o habitat, a influência alemã já tinha sido substituída por uma reverência acrítica à Itália, com a ida anual ao Salão do Móvel de Milão como o grande guia de comportamento de projeto para o ano subseqüente.
Mudança de postura
Aos poucos, contudo, essa postura que considera tão somente o que vem de fora e nega suas próprias origens começou a mudar. Uma série de fatores contribuiu para isso. No cenário internacional, creio que a globalização estimulou a multiplicidade e multidirecionalidade dos fluxos culturais. Até alguns anos atrás havia uma direção única das “tendências”: do hemisfério norte para o sul. Era o que alguns chamavam jocosamente de “circuito Helena Rubinstein”, ou o triângulo Nova York-Londres-Paris, que ditava tendências, comportamentos e padrões de consumo para o resto do mundo. Em meados dos anos 1990, em vez da direção única, do hemisfério norte em direção ao sul, os fluxos culturais passam a contemplar toda a sorte de diálogos sul-sul e de emissões do sul em direção ao norte.
No cenário interno do Brasil, no campo econômico a abertura do mercado para produtos estrangeiros em 1990 sacode os empresários nacionais, acostumados em sua grande maioria à mera cópia. Os programas mais intensos de exportação industrial também evidenciaram a falta de competitividade derivada da prática da cópia. Como concorrer com algo que é tão somente uma versão piorada – e em geral defasada – do que já existe no mercado internacional?
No campo político, um momento de virada se deu em 1992, quando o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, recebe o impeachment por corrupção, depois de um grande movimento liderado por jovens, que saíram às ruas para protestar. Dar um fim à impunidade foi um momento-chave: nele, o sentimento de vergonha em relação ao próprio país começa a dar lugar ao sentimento de esperança. É quando os institutos de pesquisa detectam uma mudança na forma como o brasileiro se vê: um povo que se considera alegre sim, mas também sério e digno de confiança. O “orgulho de ser brasileiro” começa a virar mote publicitário de grandes empresas, de companhias aéreas a redes de supermercado.
No campo das políticas governamentais, a consciência quanto à necessidade de investir na inovação calcada na busca de uma identidade cultural própria se manifesta plenamente em 1995, quando o governo federal lança o Programa Brasileiro de Design, cuja principal bandeira é a criação da “marca Brasil”.
A vitória de Lula para a Presidência da República no final de 2002 acaba por se tornar a pá de cal na valorização do que é de fora em detrimento do que vem de dentro. A gravata Hermes e o uísque Logan, símbolos de consumo da época de Collor, são substituídos por toda a sorte de produtos “made in Brazil”. Enfim, cria-se um clima intensamente propício à busca e expressão de uma identidade brasileira.
Mas qual é esta identidade? Se hoje é difícil falar de identidades nacionais, mesmo em países menores, ou com mais história de vida, ou com menor diversidade étnica, quando se trata do Brasil isso é praticamente impossível. Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, este é um país de dimensões continentais, conhecido pelo resto do mundo apenas a partir de 1500 e com uma composição populacional altamente heterogênea. Creio, portanto, que não se pode falar de uma identidade brasileira, mas de identidades – ou seja, a expressão deve vir sempre no plural. Mais ainda, acho que a identidade brasileira se dá exatamente na diversidade e no sincretismo.
Vários caminhos têm sido percorridos simultaneamente pelos designers brasileiros na busca e expressão dessas identidades.
Buscar matrizes gráficas nas manifestações da cultura material dos vários povos que compõem a população brasileira é um desses caminhos. A herança indígena, capturada em pinturas corporais ou em padrões de cestarias, por exemplo, é o ponto de partida para o trabalho em design têxtil da Arte Nativa Aplicada, de São Paulo. A herança africana bate forte na Bahia, onde, entre outras, desponta a força das criações de Goya Lopes, também em tecidos. Os vários fluxos migratórios europeus, a começar do primeiro, de Portugal, foram moldando diferentes manifestações país afora. Hoje, numa cidade como São Paulo, a influência de imigrantes como os japoneses se faz sentir de uma forma forte.
Uma outra vertente é a valorização do uso de matérias-primas locais. As madeiras brasileiras ganham uso intenso e ao mesmo tempo parcimonioso nas mãos de designers como Carlos Motta, Claudia Moreira Salles e Mauricio Azeredo – este, o primeiro a tirar partido sistematicamente da imensa variedade cromática das espécies brasileiras, usando em geral mais de uma em seus móveis. As fibras vegetais, sobretudo das inúmeras espécies de palmeiras, até há pouco tempo usadas praticamente apenas em coberturas de construções, passaram a ser transformadas numa infinidade de objetos, de roupas e acessórios de moda a jóias e objetos. Entre elas, uma que literalmente brilha como nenhuma outra é o chamado capim dourado, do estado do Tocantins, no centro do Brasil, uma fibra que parece fio de ouro. A casca de coco, o bambu e as fibras de bananeiras são outros materiais que começaram a ser pesquisados e utilizados de várias formas. Descoberta recente são as sementes de árvores, sobretudo as centenas de espécies amazônicas. Seu potencial de uso é enorme. Uma das mais interessantes é a semente de jarina, que tem aproximadamente 2 cm de diâmetro e parece o marfim, com a vantagem de ser mais fácil de trabalhar.
Encontrar referências na natureza é outra vertente desta expressão formal local. A luminosidade tropical com certeza traz uma relação com as cores diferente de países mais distantes do Equador, e só este tema já daria margem a um artigo inteiro. No entanto, o que cabe apontar aqui é que explorar as nuances da natureza local tem sido uma atitude sistemática dos programas de revitalização do artesanato que surgiram nos anos 1990 e que têm aproximado dois atores que até então se encontravam absolutamente distantes no Brasil: o designer e o artesão. O “namoro” apenas iniciado entre esses mundos é a meu ver a grande e boa novidade dos últimos anos. Quando chegam aos longínquos rincões em geral em áreas rurais do país para dar cursos aos artesãos, uma das primeiras providências dos designers é abrir os olhos dos artesãos para a percepção atenta e consciente da natureza que o rodeia, não apenas o ambiente natural, mas também o ambiente construído pelo homem. Desse olhar profundo de re-conhecimento – ou seja, de “conhecer de novo”, e com novos olhos – tem saído linhas de produtos de grande originalidade e expressão formal. Heloísa Crocco e Renato Imbroisi estão entre os principais nomes na revitalização do artesanato brasileiro.
Finalmente, outra estrada percorrida tem sido uma inspiração na própria atitude do povo brasileiro – um povo de uma inventividade e de uma engenhosidade admiráveis, que não se rende à miséria, e que mesmo na precariedade é capaz de dar respostas muito inteligentes aos problemas do cotidiano. O exemplo mais conhecido desse comportamento projetual é o dos irmãos Campana, que desde o início de sua trajetória, em 1989, diziam que não tinham a pretensão de fazer os objetos perfeitamente construídos vistos no Salão de Milão, mas queriam tirar partido do banal, do sujo, dos materiais baratos e desprezados. Massimo Morozzi, como diretor de arte da Edra o responsável pelo acesso dos irmãos Campana ao mercado internacional de design, viu neles um forte DNA de brasileiros, não os signos estereotipados e “folclóricos”, mas a atitude.
Se são os mais conhecidos, não são os únicos. Nido Campolongo no universo para ele amplo do papel, Flavio Verdini e Julio Sannazzaro na reciclagem de componentes industriais, Lino Villaventura nas roupas são alguns entre outros que já vinham nesta trilha, e que prossegue agora com os jovens, por exemplo, do grupo Notech Design.
Desde maio de 2003 estou à frente do Museu da Casa Brasileira, um museu público, pertencente ao governo do Estado de São Paulo, e o único brasileiro inteiramente voltado para o design e a arquitetura. A linha de atuação que tenho procurado imprimir é que o Museu se torne o lugar privilegiado para dar visibilidade a essas iniciativas espalhadas país afora, muitas vezes pouco conhecidas mesmo de nós brasileiros. Entre outras exposições temporárias que fizemos neste período, estão a revitalização do design têxtil no Estado de Minas Gerais sob a liderança do designer Renato Imbroisi, um primoroso trabalho de resgate de técnicas artesanais antigas, que corriam o risco de se perder, aliado a uma contemporaneização das formas, feita em conjunto com as artesãs locais. Uma retrospectiva de 25 anos de atuação de Carlos Motta, um dos mais destacados designers de móveis no país, grande conhecedor e defensor da madeira, foi tema de outra exposição, ao lado da sinuosidade e sensual fluida de Jacqueline Terpins no vidro.
Não damos atenção apenas ao design erudito, nos abrimos também às ricas manifestações populares. Um ponto alto dentro deste enfoque foi a exposição Design Popular da Bahia, que trouxe objetos feitos por ambulantes e pessoas do povo em Salvador, capital do estado da Bahia, como os carrinhos feitos por pessoas que vendem café nas ruas da cidade, um design que vai além do funcional – requisito perfeitamente atendido – para se tornar um meio de expressão pessoal de cada vendedor/ designer. Em visita ao museu, Mario Botta admirou a engenhosidade e disse que era a melhor coisa que tinha visto em sua estada no Brasil.
Temos procurado também estimular a reflexão sobre esses temas no Museu, através de debates e mesas-redondas que acompanham cada exposição temporária. Nesses momentos, um pressuposto importante é o de que identidade é ponto de partida, não ponto de chegada. Como diz o designer de móveis Maurício Azeredo, “aquele que não reconhece a própria identidade fica como o cachorro que cai do caminhão no dia da mudança. Ele não sabe de onde veio, onde está, para onde vai, e muito menos por que. Eu me sentiria totalmente desorientado se não soubesse o cheiro do meu tempero, o perfume da minha mata, a luz do meu céu, para saber em que geografia eu me situo. Mas isso só me permite dizer de onde estou saindo. Não limita para onde vou.”
Uma reflexão necessária é que tipo de identidade é essa que perseguimos. Se olharmos a definição do dicionário, veremos os seguintes significados para a palavra identidade: “1 estado do que não muda, do que fica sempre igual (a identidade das impressões digitais revelaram o assassino)2 consciência da persistência da própria personalidade (crise de identidade, perda de identidade)3 o que faz que uma coisa seja a mesma (ou da mesma natureza) que outra (eles têm identidade de pensamento)4 conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e graças às quais é possível individualizá-la.
As três definições iniciais levam a um tipo de identidade paralisante, que segura no passado e não leva ao futuro; quer o idêntico, o esperanto, a padronização. Pode levar ao reforço de estereótipos e a generalizações perigosas, numa folclorização que é também uma maneira de nos manter na periferia. É o último significado do dicionário que nos interessa, porque ele se baseia justamente na heterogeneidade, na vida tão diversa de cada um de nós; ele não só permite como persegue a diversidade.
É, ainda, o único que admite o movimento. Portanto, o único que está vivo, pois só permanece sempre igual o que está morto. A vida, felizmente, é um suceder de mudanças e de transformações, nas quais podemos na juventude e na maturidade rever o que tentaram nos impingir na infância para poder encontrar a face, ou as faces, do que verdadeiramente queremos ser.